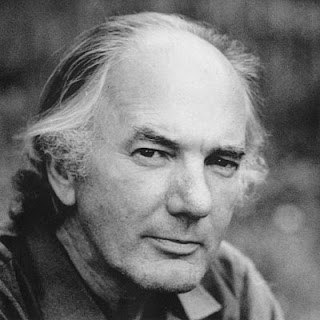A literatura israelense – faz algum
tempo – deixou de ser uma curiosidade geográfica. Ao contrário dos escritores
judeus, espalhados pelo mundo, (Isaac Bashevis Singer, Saul Bellow, Bernard
Malamud, Primo Levi, Isaac Emmanuílovitch Babel, Stefan Zweig, Mordecai
Richler, Philip Roth, etc.), os israelenses foram, durante bastante tempo, completamente
estranhos a quem manifesta algum interesse pela literatura em um nível acima
dos best-sellers. No Brasil, essa situação, salvo engano, mudou com a
publicação dos primeiros livros de Amos Oz, na década de 80 do século passado.
Mais tarde, outros autores também foram publicados, inclusive o excelente e
pouco conhecido Yoram Kaniuk (A Ressurreição de Adam Stein).
Atualmente, poucos leitores são capazes
de negar a boa qualidade das narrativas israelenses – que em muitos momentos, por
motivos políticos, religiosos e econômicos, expressa, de maneira inequívoca, as tensões
que unem e afastam todos aqueles que moram naquela região do mundo. Os leitores
de David Grossman, Avraham B. Yehoshua e Amos Oz, entre outros, descobrem essas questões
nas primeiras páginas dos livros. E isso serve como um guia capaz
de conduzir a desfechos surpreendentes, inclusive aos finais infelizes. Não
todos – claro. Apenas os mais importantes. De qualquer forma, o que esses
escritores (e seus textos) querem contar para os leitores é que talvez não haja
nenhuma importância no desfecho das narrativas. Sejam elas heroicas ou apenas
patéticas.
Entre os escritores mais jovens, Etgar Keret, autor de Sete Anos Bons, adotou um estilo menos dramático. Isso não significa que ignora os problemas que o circundam. Ao contrário, todos os temas fundamentais estão presentes em seus textos, mas com outro enfoque. Através do humor comenta as agruras da realidade objetiva e revela – na medida do possível – o quanto há de complexidade (e tolice) na existência humana. Além disso, ambiciona expressar um tipo de ternura que a guerra e a ideologia poucas vezes são capazes de compreender.
 |
| Efrain, Etgar e Lev |
Todos esses fragmentos cotidianos são narrados em primeira pessoa, evocando um livro incompleto de memórias ou a trapaça que os teóricos chamam de autoficção, e que costuma ser usada – muitas vezes por má-fé – para causar confusão, misturando os relatos ficcionais com a vida pessoal do autor. Por isso, para afastar qualquer tipo de interpretação complicada, um dos elementos mais impressionantes do livro é a relação do narrador com o filho e com o pai. O filho aparece como uma projeção do futuro, a luz que surge lentamente na esquina do tempo. Ao mesmo tempo, mais do que a garantia da transmissão genética, Keret proclama que procriar simboliza uma parte da herança que o homem recebe de Deus. Ao unir a biografia (ficcional ou não) com a história do descendente, o escritor esboça a própria linha de vida – que está entrecruzada com a do filho. No lado oposto, surge a narrativa de quem vai descobrindo – dolorosamente – que parte de sua história está sendo tragada pelo inevitável. A morte do pai, em especial, mostra o quanto é vulnerável a experiência humana. Embora esteja ciente dos limites da vida, Keret lamenta a doença de seu pai e, consequentemente, quando acontece, a ausência física daquele que se transformou em saudade, Olhei os sapatos de meu pai, pousados na mesa, secos; pareciam muito confortáveis. Calcei e amarrei os cadarços. Couberam com perfeição.
Sintomaticamente, Keret também quer demonstrar o quando significa para uma família se distanciar daqueles com quem se convive na infância. O irmão e a irmã são tratados como personagens episódicos, quase ausentes, seja porque moram “longe” – e o conceito “longe” se refere a algo que está situado além da distância espacial –, seja porque o tempo contribui para o afastamento afetivo. O irmão mora na Tailândia; a irmã, na mesma cidade que Keret. Por maiores que sejam as preocupações com o básico, o folclore predomina na ordem de nomeação afetiva. Em Minha Pranteada Irmã, o escritor revela que, em determinado momento, ocorreu uma cisão em sua família. Logo depois da Guerra do Líbano, parte da comunidade israelense foi tomada pela sensação de que aderir aos princípios religiosos ortodoxos, e consequentemente, romper com a vida mundana, equivalia a uma espécie de morte em vida. A irmã de Keret, embora esteja viva, mãe de onze filhos sadios e robustos, foi enquadrada nessa categoria. Desde o momento em que minha irmã atravessou a fronteira para a Divina Providencia, tornei-me uma espécie de celebridade local. Os vizinhos que nunca deram por mim paravam só para me oferecer um aperto de mão firme e prestar suas condolências. Ao irmão restam lembranças episódicas ou a presença constrangedora no funeral do pai. É pouco. Talvez seja muito. A fraternidade contém muitas sutilezas.
Em outros textos, Keret trata de
assuntos tão díspares como viagens de avião, sessões de autógrafos, reencontro
com amigos, taxis, telemarketing, o jogo Angry Birds, o serviço militar para os
filhos, a tradição judaica e o medo da guerra. Em cada uma dessas
circunstancias, há algo de espetacular, divertido, comovente, humano.
Sete Anos Bons, mais do que esboçar o
absurdo diário, propõe o bom humor como filosofia – uma das maneiras mais
salutares de enfrentar as pequenas tragédias do cotidiano.